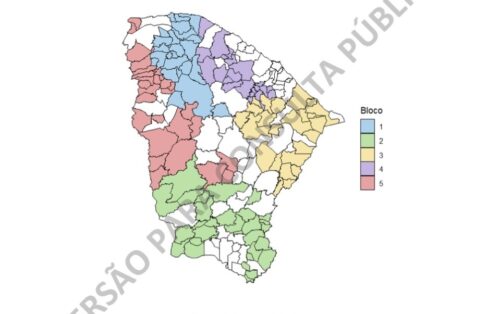“Se a tolerância nasce da dúvida, que nos ensinem a duvidar dos modelos e utopias, a recusar as profecias da salvação, os arautos das catástrofes”, Raymond Aron.
“Não possuímos direito maior e mais inalienável do que ao sonho. O único que nenhum ditador pode reduzir ou exterminar”, Jorge Amado, em “O menino grapiúna”
Como se faz um ditador? Como um governante cede — ou avança — sobre instintos dissimulados para fazer do arbítrio a arma do poder que exerce?
De início, falam em nome da liberdade. Alguns chegam ao poder pela força do voto — arma da qual tratarão de livrar-se tão logo divergências persistentes ameacem suas certezas e sua segurança. Não raro, ascendem na crista de um “golpe”, ao qual emprestam a condição de “revolução”. Há os que fazem da brutalidade o instrumento da tomada do poder. Outros, mais sutis, usam a palavra — e por trás dela se escondem, travestidos de democratas, numa simulação solerte de falsas intenções.
Hitler fez uso do estilo “vingador”, o de um “salvador” anunciado: a revelação de um ser ungido para reconstruir o lugar de seu povo na história e restaurar uma grandeza considerada de justo merecimento. Transmitia, pelo gestual e pela voz — em tom agressivo e ameaçador —, a insatisfação demolidora que terminaria por abrir-lhe as portas do poder do Estado, sobre as cinzas de Weimar.
A liturgia do espetáculo na conquista fez o que faltava para “legitimar” a trágica engenharia social e política do III Reich.
Mussolini, Lênin e Stálin — todos foram déspotas, como Hitler o foi, ainda que em diferentes graus de tirania. Alguns receberam o perdão — e até a celebração — da posteridade, sustentados pela cumplicidade dos círculos fiéis de sua grei ideológica. Uns e outros, entretanto, foram recompensados pelo juízo histórico, como preito de homenagem aos seus próprios mitos.
A manipulação da percepção do povo, diante do poder verbal de convencimento empregado, levou as gentes à sujeição e a um estado de medo e falsas esperanças — componentes essenciais de qualquer governo de exceção.
Dos candidatos mal-sucedidos a déspotas, não vale a pena nos ocuparmos. Foram vocações felizmente perdidas de tiranetes fracassados.
No Brasil, como em boa parte da América Latina, as ditaduras brotaram da miséria e das privações do povo, capitalizadas, em determinadas circunstâncias, a partir do próprio Estado ou de movimentos ditos “sociais”, animados por políticos — as famosas “vivandeiras de quartéis”, como em 1964.
Mudaram os tempos; mudou a receita para a tomada do poder do Estado. Hoje, a opinião consagrada pela mídia e o espírito das leis — gerenciado pelo corpus juris da nação — têm mais força do que as antigas legiões de terra, mar e ar.
A televisão retirou dos personagens insurgentes o palco onde construíam sua história política e deu-lhes asas pelo mundo virtual, para o livre e incontido exercício das suas práticas de “fake news”.
São, porém, as mesmas pessoas. Elegem o vermelho em suas vestimentas de combatentes — como poderiam escolher o negro ou o pardo de outros tempos. Simplificam a fala, emprestam à voz o tom autoritário que encanta e seduz os novos democratas…