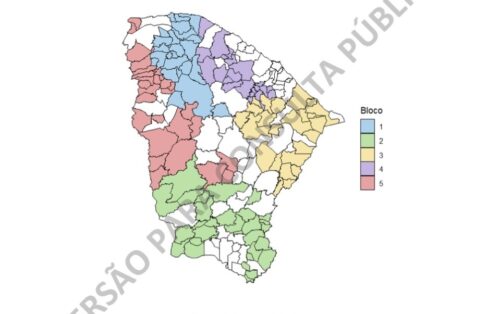“[…] os contrastes [entre esquerda e direita] existem, mas não são mais os do tempo em que nasceu a distinção; modificaram-se tanto que tornaram anacrônicos e inadequados os velhos nomes. […] Como o conceito de esquerda reduziu a sua própria capacidade conotativa, a ponto de que se dizer de esquerda é, hoje, uma das expressões menos verificáveis do vocabulário político, a velha dupla poderia ser substituída por outra: progressistas–conservadores.”
— Norberto Bobbio, “Esquerda e Direita”, Editora UNESP, São Paulo, 1995, p. 33–34
Eticamente, não há como encontrar diferença essencial entre uma ditadura “de esquerda” e uma “de direita”. Ambas, quando no poder, abraçam a mesma liturgia da força e do arbítrio — e algumas teorias de efeito. Esteticamente, apresentam faces particulares que as tornam iguais nas suas diferenças.
De Munique, com a República Soviética da Baviera (1918–1919), à tomada do Palácio de Inverno, em São Petersburgo (outubro de 1917), a esquerda cresceu e buscou — como o faz até hoje — a internacionalização do seu ativismo, recorrendo às mesmas fórmulas insurrecionais do Komintern.
No primeiro caso, uma aventura passageira, esmagada pelos Freikorps da direita. O brado da conquista “da paz” transformou-se em bandeira de tomada do poder pela esquerda, mundo afora. Hoje, somaram ao pacifismo, um tanto fora de moda, a ecologia — como se essa disciplina, com ares de Academia, não pudesse também ser responsabilizada, a exemplo dos governos populares e dos demais, pelos ataques mais diretos e devastadores ao meio ambiente, resultantes de uma economia e de uma industrialização predatórias que se disfarçam de “protetoras” do planeta.
Retomando o fio da conversa: falava eu, acima, sobre as convergências e a polarização construídas pelos arrufos de greis ideológicas — saídas do mesmo ninho de intolerância que empresta, aos menos atentos, a ideia de que possam ser “diferentes”.
A “direita”, tal como chegou até nós no rastro do nazismo e do fascismo, é um galho da árvore frondosa da “esquerda” — costela do barro original desta humana gente. Podemos identificar esses espasmos salvacionistas — socialismo, comunismo e suas variantes bolcheviques — bem como as pequenas plantas do arbítrio germinadas na periferia do “primeiro mundo”: trabalhismo, castrismo, chavismo, petismo, peronismo, allendismo… e todo o universo do “populismo”, ao qual se deu, por vergonha ou constrangimento, a pretensiosa e ingênua designação de “terceira via”.
Paradoxalmente, a new left que tanto encanta o Brasil traz no sangue a mesma matriz que gera comunistas, socialistas, petistas. Suas raízes não estão em Cuba. Têm marca californiana, woke. Falam inglês, leem as orelhas de O Capital, têm opinião formada, fazem uso da bolsa-família, usam relógio de grife e militam em torno do erário. São, por instinto e natureza, seres críticos das certezas alheias.
Para entender o que um “socialista” carrega na sua bagagem woke, basta um olhar cúmplice: vê-se o apego ao desafio de destruir o passado — ainda que não lhe ocorra, com segurança, o que construir no futuro, fora do receituário dos manuais dos coletivos partidários. Dessa gente arrumada da direita, tampouco resultou um projeto consistente de sociedade e, muito menos, de governo.
Esquerda e direita alimentam-se de uma pauta gasta de palpites “múltipla escolha”: são contrapontos das próprias hesitações, traços litúrgicos de um ativismo inesgotável de velhas persignações ideológicas.