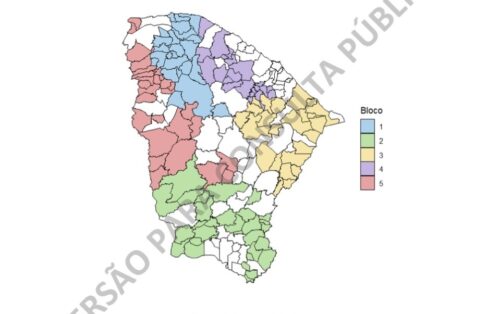“Porque quero ficar da cor bonita do meu amigo.”
Foi a resposta de um alemãozinho de uns seis ou sete anos, deitado na calçada da vila onde havíamos sido alojados, ao ser perguntado — por nossa intérprete, a nosso pedido — por que estava tomando sol daquela forma. Seu amigo era um menino negro, filho de refugiados de El Salvador.
A opinião daquela criança nos surpreendeu, encantou e, ao mesmo tempo, encheu-nos de interrogações. Qual o significado disso para os habitantes daquele lugar? Que alcance poderia ter? Representaria uma mudança na posição dos alemães, tão marcados pela questão racial algumas décadas antes? Ou seria apenas uma daquelas manifestações da pureza infantil, que os adultos não tardam em sufocar? Não tivemos respostas naquele momento.
Na verdade, estávamos cheios de perguntas — sobre nossa vida, sobre aquele país onde, por circunstâncias imprevisíveis, iríamos passar um período relevante da juventude. O que era, afinal, aquela Alemanha? Quanto tempo viveríamos ali? O que poderíamos esperar daquela nova realidade?
Apesar das dúvidas, não hesitávamos quanto à decisão de aceitar a oferta de acolhimento da RFA — República Federal da Alemanha — que nos deu integral apoio desde o início. A embaixada alemã no Chile entregou-nos passaportes especiais de refugiados e nos garantiu proteção desde o Refúgio de Padre Hurtado até o embarque seguro no avião que nos tirou de Santiago.
A chegada à Europa
Ao desembarcarmos em Bruxelas, no dia 9 de janeiro de 1974, deparamos já no aeroporto com uma realidade muito diferente da que conhecêramos. A começar pela tecnologia: fingers, máquinas de enxugar mãos, dispositivos automáticos de venda de camisinhas, refrigerantes e cigarros — novidades ainda inexistentes entre nós. A globalização, à época, caminhava devagar.
De Bruxelas seguimos em conexão para Colônia, em um voo pilotado por uma loura alta e simpática — não soubemos se belga ou alemã. Na chegada, um carro nos levou a Unna-Massen, centro de triagem para refugiados, onde ficamos quatro dias. Depois, transferiram-nos para Bövinghausen, bairro periférico de Dortmund, numa vila que abrigava refugiados do leste europeu, aberta provisoriamente também aos perseguidos pela ditadura de Pinochet. Ficamos no térreo de um sobrado simples, mas confortável, com três cômodos mobiliados.
Acolhida em Bövinghausen
Bövinghausen era calma e segura. Ali frequentamos um curso básico de alemão. Nas horas livres, caminhávamos pelo campo atrás da vila e praticávamos natação em uma piscina aquecida próxima. Recebemos muitas manifestações de solidariedade: convites para festas, atenção no cotidiano, até participação no carnaval alemão.
Num baile carnavalesco local, a festa começou com casais dançando valsas. Depois, animou-se com rancheiras e mazurcas. Em nosso “inglês-de-colégio”, pedimos ao maestro se poderia tocar músicas brasileiras — e logo fomos brindados com Tico-Tico no Fubá, Aquarela do Brasil e A Banda. Dançamos, acompanhados por alemães entusiasmados.
Após quase três meses, fomos transferidos para Bochum, convidados pela universidade local a fazer um curso de alemão de um ano, essencial para o exame de proficiência que permitiria prosseguir os estudos superiores.
Comunidade de refugiados em Bochum
Em Bochum havia uma colônia de chilenos e latino-americanos — poucos brasileiros. Integramo-nos rapidamente a essa rede de apoios mútuos.
Lembro-me de Nelson, salvadorenho espirituoso, que certa vez, olhando da sacada para uma obra, comentou: “Adoro ver esses lourões carregando sacos de cimento na cabeça, porque na minha terra só quem faz isso são os crioulos como eu” — e caiu na risada.
O curso reunia alunos de todos os continentes: norte-africanos, árabes, asiáticos, latino-americanos, europeus. Essa convivência nos fazia perceber a riqueza da diversidade humana. Fizemos amizades: duas polonesas interessadas no Brasil falavam das restrições de liberdade em seu país, sob forte ingerência soviética, o que muito nos impressionava.
Solidariedade e amizades
Recebemos apoio de portugueses e espanhóis que trabalhavam na indústria automobilística da região do Ruhr. Muitos eram também refugiados políticos, vindos de regimes fascistas ainda vigentes em seus países. Identificavam-se conosco pela cultura latina e pela luta contra ditaduras militares. Participávamos de suas atividades democráticas e das comemorações nacionais.
Ruth e eu tivemos grande ajuda do casal Gertrud e Michael, integrantes de uma rede de apoio aos refugiados chilenos. Gertrud, secretária bilíngue, e Michael, executivo, foram nossos cicerones na região. Ajudaram-nos a montar nossa casa em Bochum. Numa ocasião, faltando buchas para fixar móveis, sugeri usar palitos de fósforo — e Michael, acostumado ao planejamento meticuloso, ficou impressionado com a “gambiarra” brasileira.
Outro apoio essencial foi Gerardo Alcoforado, cearense do Crato, filólogo respeitado e querido na universidade. Conhecido como Gegê, traduziu gratuitamente nossos documentos e tornou-se grande amigo.
E havia também o casal Ângela e Paulo Lincoln, porto seguro desde os tempos do Chile. Instalados em Colônia, orientavam-nos por cartas e telefonemas e intercediam para nossa transferência para lá.
Alemanha dividida
Em Bövinghausen, a maioria dos refugiados vinha do leste europeu, fugindo de regimes socialistas; em Bochum, predominavam os perseguidos por ditaduras de direita. Assim, a RFA acolhia pessoas de ideologias opostas. A própria Alemanha estava dividida: leste sob influência soviética, oeste sob influência ocidental, ambas em tensão permanente, reflexo da Guerra Fria. Para a jovem democracia da RFA, reconstruída após o nazismo, os desafios eram imensos.
As atividades dos brasileiros de denúncia da ditadura, o exame de alemão, o recomeço dos cursos e nossa mudança para Colônia ficam para uma próxima historieta.
De Maranguape,
João de Paula
⸻