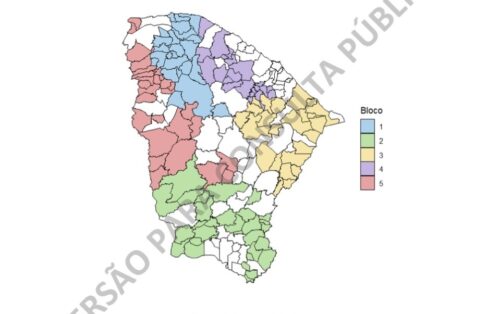“A pós-verdade é uma forma de inclinação social em que a verdade não é tão importante quanto o que se imaginava verdadeiro.” Stevan Tesich, in Nation, 1992.
Não há por que surpreender-se. 1935 e 1937, para não esquecer 1964, repetiram o mesmo ritual de uma “trama golpista”. Só que, por aqueles tempos, os golpes faziam-se à moda artesanal, muito primitiva, sem a “página infinita” da Internet. Com tramas e pronunciamientos mal redigidos, dotados daquele traço patriótico dos adjetivos e interjeições ao gosto da caserna, fizeram-se prosa e fala e uma retórica a que a nação aderiu.
Os civis, honra lhes seja feita, saídos da onda bacharelesca que cobrira o Brasil, levavam mais jeito para a peroração sobre o óbvio.
Em 1964, o marechal Castelo Branco sentiu-se molestado com o assédio das “vivandeiras de quartel” e pôs as barbas de molho contra seus “amigos de infância”, contraídos quando adolescente em Fortaleza… e em Realengo. Essas criaturas, civis de origem, floresceram, encorajados pelos Atos, no seu patriotismo desabrochado, e puseram-se a aconselhar e a palpitar sobre a democracia que melhor nos haveria de servir. Amarrou-se o ilustre cabo de guerra ao mastro da galeota, como Ulisses o fizera séculos, milênios passados, para não entregar-se ao canto das sereias — a que se referiu Homero, repórter da Rede Globo, numa série de reportagens sob o título de A Odisseia e A Ilíada…
Feitas estas digressões históricas, é tempo de retomar o que me trouxe até aqui, nestas demoras de uma narrativa que, a meu ver, promete.
Falávamos sobre “golpes” que os austríacos celebraram como putschs, receita para a anexação da Áustria ao III Reich. Esses artefatos da governabilidade fizeram sucesso entre as duas grandes guerras. Na América Latina, tivemo-los amiúde, sem os devidos cuidados para bem classificá-los. Chamamo-los, em sua versão post-truth, de “trama golpista”.
Temos, confessadamente, alguma experiência com esses “jogos de poder”. Com tramas nos vimos envolvidos: algumas silenciosas, burocráticas, sem o derramamento de uma só gota de sangue; outras, enroladas numa dialética mal cozida, espécie de cantochão de lealdades cultivadas.
Nossas revoluções, golpes ou tramas — seja lá o nome que se lhes dê — costumavam ser asseados. Visavam, no mais das vezes, cargos ou alguma sinecura bem armada, uma comissão por notórios serviços prestados. Tudo no círculo concêntrico dos ajustes prévios, dentro, naturalmente, das trincheiras da cidadania.
Nossos putschs foram, quase sempre, uma medicação doméstica, ensaiada entre cumplicidades vencidas. Uma sorte de meizinha, espécie de emplastro, para ocasiões e necessidades especiais.
Como a Proclamação da República, a desoras, no Campo de Santana, sem testemunhas de monta para a ocasião.
Como 1935, com a “Intentona” comunista, mal preparada nos quartéis.
Como 1937, com a Constituição outorgada — vulgo “polaca” — e o advento do Estado Novo.
A Carta Brandi e o Plano Cohen, saídos das artes de gabinete da falsificação e da fraude.
Como 1964 e os Atos Institucionais, atualização bem arquitetada dos métodos e da teoria da reconstrução do Estado.
Por fim, esta correria ecumênica para fixar a imagem do opróbrio e presenteá-la aos brasileiros recalcitrantes…
Fizemo-nos fortes e combativos, nomeamos nossos inimigos internos — já esquecidos, de tão dissimulados que eram — e logramos designar nossos novos inimigos “externos”, substituindo os antigos, gastos pelo uso, por outros mais adequados.
Enturmamo-nos em tribos jeitosas, cabelos e ideias woke, fidelidades renovadas — e nos mostramos “modernos”.a