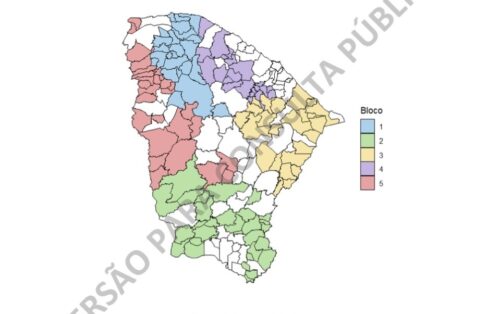“… e que a voz da igualdade, sempre seja a nossa voz.” Samba-enredo — Imperatriz Leopoldinense, 1989.
“A loucura é contagiosa.” — Aldous Huxley, Brave New World
Os milhões de vítimas da fome — o trágico holodomor — resultantes do plano de coletivização implantado pelo bolchevismo na Rússia não foram suficientes para moderar a violência contra o campesinato. Arrancou-se sua produção minguada, coletivizaram-se suas terras, e a autoridade bolchevique não imaginava o tamanho do desastre populacional que provocaria ao abalar a estrutura medieval do país. Não se tratava, para eles, de um “erro”. O que havia era a disposição de submeter a sociedade a medidas tão severas que, por pouco, não comprometeram o esforço de uma revolução armada em nome do proletariado e “das vítimas da fome”.
Os tempos são outros — e é fácil perceber. O Brasil enfrenta, nesta quadra desastrosa de ativismo ideológico e jurídico, uma situação confusa de juízos e decisões ambíguas, animada e armada pela mão do arbítrio. Segundo o discurso oficial, tudo é feito patrioticamente, em “defesa” da democracia. Ao contrário dos bolcheviques, que desembarcaram no poder em meio a uma prolongada guerra civil inédita nos 400 anos da dinastia dos Romanov, o radicalismo instalado no Brasil sabe bem o que quer. O que falta é aprender como operar essas mudanças essenciais.
De esquerda ou de direita, as correntes radicais são moldadas no mesmo barro preconceituoso. Representam extremos de uma cadeia autoritária que se tocam e se alimentam mutuamente. O assédio ao poder do Estado teve início — sem que percebêssemos — desde o Estado Novo e os governos militares, e se expandiu nas repúblicas “populistas” nascidas com a Constituição de 1988. Tudo isso não sem antes atravessar as inquietações, bravatas e rompantes revolucionários que expuseram a fragilidade dos sentimentos democráticos no país.
Os bolcheviques de 1917 não sabiam como tomar o governo dos czares — menos ainda o que fazer depois da conquista. Baseavam-se em conceitos frágeis e ideias emprestadas de leituras de caserna e palpites da militância. Eram ideias vagas, extraídas de doutrinas e teorias sem qualquer teste de qualidade, armadas apenas com tropas de terra e mar mal treinadas desde a guerra do Chaco no Paraguai. O resultado foram levantes, tramas, insurreições, putches, golpes mal-sucedidos — episódios que enchem nossa história política e militar de mitologias sobre feitos heroicos inacabados.
Em 1917, e nos anos da guerra civil incruenta que se espalhou pela Sibéria, entre mujiques broncos e os exércitos dos russos brancos, revelou-se a máscara do comunismo “real”: a versão burocrática das ideias de Lênin numa Rússia insurreta, proletária e “soviética”.
No Brasil, o caminho para a caixa-forte do Estado foi descoberto a tempo e explorado de forma prodigiosa. Empresários, burguesia de classe média, tropas, intelligentsia, mídia mercenária e o que chamam, com certa ironia, de “povo” foram astutamente cooptados. Trata-se de um projeto completo — o arcabouço de uma nova sociedade, um “bravo mundo novo” no sentido pintado por Aldous Huxley, com um retrato em preto e branco do que seria essa ordem social.
Emerge, assim, um novo Estado — novíssimo — de direito, que se justifica e legitima como autodefesa. Um processo “autoinstitucionalizador” que se constrói sem povo e à revelia das instituições previstas na Constituição.