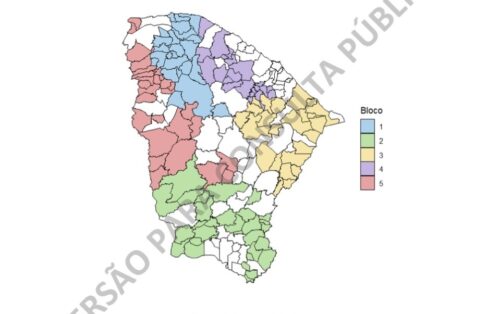Uma pessoa de reconhecida importância local, a quem há pouco passei respeitosamente a chamar de amigo, me envia mensagens sugerindo que eu escreva sobre a Praça do Ferreira, o ícone da cidade, como ele mesmo define. Não apenas que eu escreva, mas propõe ângulos de abordagem ao futuro texto. Sonhe passeando pela praça – ele provoca. Pergunte o que viram as pedras da praça, desviradas mais de três décadas depois da grande reforma.
Uma pessoa de reconhecida importância local, a quem há pouco passei respeitosamente a chamar de amigo, me envia mensagens sugerindo que eu escreva sobre a Praça do Ferreira, o ícone da cidade, como ele mesmo define. Não apenas que eu escreva, mas propõe ângulos de abordagem ao futuro texto. Sonhe passeando pela praça – ele provoca. Pergunte o que viram as pedras da praça, desviradas mais de três décadas depois da grande reforma.
Como um sem-número de fortalezenses, tenho encontrado poucos motivos para ir à Praça do Ferreira. A região do Centro esmaeceu no mapa mental de tantos, restando escassas ocasiões que justificam a ida até lá. A aproximação das festas de Natal, com a apresentação do coral de crianças nas varandas estreitas do Excelsior Hotel, tem resistido como uma dessas ocasiões.
E lá fui eu para ver e ouvir o coral, aproveitando para revisitar aquela que, em seu distante começo, era chamada Feira Nova, contrapondo-se como alternativa de comércio à Feira Velha. Aos poucos foi se configurando, “a bem dizer, como o Centro da cidade” – conforme relata o escritor Oliveira Paiva no livro A Afilhada, de 1889. “Quase todo mundo cruzava-a diariamente” – escreve ele, “quer em diagonal, para abreviar o caminho, quer pelo abaulado empedramento que lhe era como um caixilho gigante”.
 A praça “era fechada dos quatro lados por casas de comércio” – entre as quais o laboratório e local de venda dos produtos do boticário Ferreira, figura das mais conhecidas e atuantes na cidade, que daria seu nome à praça. Sentia-se ali, pelo final do século XIX – e já se percebe a insatisfação do escritor contra a poluição visual do entorno – a agitação constante de pessoas, carroças e animais.
A praça “era fechada dos quatro lados por casas de comércio” – entre as quais o laboratório e local de venda dos produtos do boticário Ferreira, figura das mais conhecidas e atuantes na cidade, que daria seu nome à praça. Sentia-se ali, pelo final do século XIX – e já se percebe a insatisfação do escritor contra a poluição visual do entorno – a agitação constante de pessoas, carroças e animais.
Mas havia jardins floridos, árvores de sombra, espaço para o lazer dos mais velho e para as brincadeiras das crianças. Havia os cafés, quiosques de ferro e madeira posicionados nos quatro cantos da praça, havia inspiração para passar o tempo em poemas e pilhérias, compondo o orgulhoso sentimento de uma povoação que crescia.
Salte-se meio século na cronologia da Capital. Na década de 1940, a praça do Ferreira continua sendo “o coração da cidade”, no dizer do memorialista Marciano Lopes em seu livro Royal Briar (2011), “coração que pulsava forte no mecanismo do relógio da sua famosa Coluna da Hora, em estilo art déco, de cimento e pó de pedra”. Veículos a motor, por um tempo movidos a gasogênio, transitavam à sua volta sem se dar conta dos canteiros, cortados à maneira dos jardins franceses, “das estátuas de louça representando as quatro estações, dos fícus-benjamins podados em formas de bolas, anéis saturninos, pirâmides e cubos” – a geometria dos conceitos de beleza de meados do século XX, da qual pouco restou.
Outro vai ser o perfil da praça no século XXI, essa na qual caminho agora, buscando as alterações pelas quais passou desde que a visitei pela última vez – sendo a mais significativa delas a possibilidade de ver o poço remanescente dos tempos da Feira Velha. E volto a Oliveira Paiva, ainda no livro A afilhada. “Os moleques e as crioulas agrupavam-se em torno ao liso cacimbão de pedra lioz, no meio da área, e enchiam os potes e canecões no chafariz da Water Company, um quiosque de ferro, miudinho e bem-acabado”.
O ambiente desenhado por ele se foi, embora o cacimbão continue por lá, resgatado de sua sepultura secular. Está alguns centímetros abaixo do nível do chão, tijolos e argamassa visíveis debaixo de uma placa de vidro grosso, sobre a qual as crianças se deitam, as mãos em concha, olhos e narizes quase encostados na meia transparência do vidro, tentando adivinhar o que se encontra escondido lá embaixo.
Fortaleza não é Roma, cidade na qual parece impossível arranhar as unhas na terra sem encontrar resquícios de obras ou objetos milenares. A descoberta do poço da Praça do Ferreira, acontecida há três décadas, seguida agora da exposição pública, integra nosso diminuto acervo de antiguidades.

Talvez o relato que faço não tenha atendido ao que meu amigo desejava. Não falei da fonte ladeando o relógio, pronta para lançar às alturas as colunas d´água, o conjunto valorizado pela iluminação direcional. Não discorri sobre o aumento no número de bancos para os passantes cansados. Não mencionei os novos quiosques, com mesas e sombrinhas. Não tratei dos banheiros públicos, nem das pistas para break dance, nem do bicicletário.
Mas registro meu impossível desejo de me aproximar da beira do poço, e apurar os ouvidos –pois que os tenho sempre atentos – para escutar o que conversavam “os moleques e as crioulas” citados por Oliveira Paiva, na Feira Nova dos idos do século XIX.

Angela Barros Leal é jornalista, escritora e colaboradora do Focus Poder desde 2021. Sócia efetiva do Instituto do Ceará.