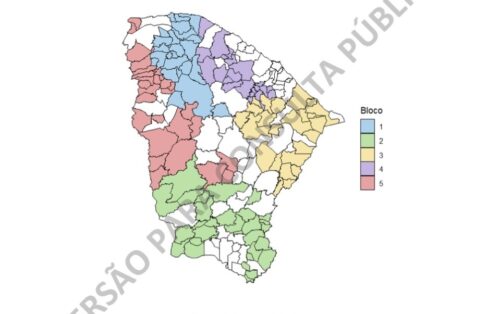A formatação do nosso grupo era a de um estreito triângulo: na ponta mais alta, estava a vendedora da loja, visivelmente grávida, em seu posto no balcão; na ponta à direita, agitava-se um rapaz zangado, com tranças rastafari encostando na garrafa de cerveja que segurava à mão; e eu, desavisada, postada na ponta esquerda, sustentando o peso dos cabides com as roupas que desejava experimentar.
A formatação do nosso grupo era a de um estreito triângulo: na ponta mais alta, estava a vendedora da loja, visivelmente grávida, em seu posto no balcão; na ponta à direita, agitava-se um rapaz zangado, com tranças rastafari encostando na garrafa de cerveja que segurava à mão; e eu, desavisada, postada na ponta esquerda, sustentando o peso dos cabides com as roupas que desejava experimentar.
Minha presença ali, compondo o vértice daquele desajeitado triângulo, tinha um objetivo simples. Só que, entre o meu interesse de comprar, e a boa vontade da vendedora de vender, havia um obstáculo na forma do referido rapaz, que perdia o controle emocional a cada segundo que se passava.
Ele entrara em algum momento, e se dirigira ao Caixa para demandar a devolução do dinheiro de uma camisa que comprara “20 minutos atrás” – como repetia. A vendedora não perdera a calma: “Avisei a você que é política da loja não realizar devolução de dinheiro”.
Só havia mulheres dentro da loja, talvez umas sete ou oito. Após vários replays do inútil diálogo, quando o rapaz se aproximara da vendedora, ainda com a garrafa de cerveja na mão, e levantara a voz exigindo o dinheiro, e quando ela insistira que não devolveria, e ordenara a ele que baixasse o tom, meu sentimento era o de estar participando de uma peça de teatro.
Duas clientes trataram de sair, apressadas, sem olhar para trás: espectadoras insatisfeitas com o desenrolar do enredo. As que permaneceram na plateia – eu, inclusive – nos mantivemos paradas em nossos lugares, como se o que acontecia não nos dissesse respeito. Mas quando a vendedora pegou no telefone, e as tranças do rapaz se agitaram feito serpentes na cabeça de Medusa, e o ar ganhou uma súbita densidade elétrica, duas de nós, meras clientes, resolvemos ser parte do elenco e nos aproximamos do balcão.
O rapaz desafiara: que a vendedora chamasse a polícia. Ele dali não sairia.
Ao invés da polícia, o chamado telefônico da vendedora convocara a boca de cena mais uma personagem: a supervisora da loja. Que com maior dureza repetira a frase da vendedora, a essa altura esgueirando-se com sua barriga para algum local menos sujeito a riscos. Não devolveria o dinheiro a ele, entoou a supervisora, e ela, sim, ligou o número da polícia, olhos nos olhos do rapaz.
Formávamos agora um losango sem diálogos. Dava-se uma pausa na tensa peça de teatro que se armara de improviso. E nós duas, duas clientes desconhecidas, passamos a construir, às pressas, sem combinação prévia, uma teia de falsa normalidade.
Empilhamos sobre o balcão, junto ao Caixa, duas pilhas de roupas. Encobrimos, com a superposição de panos, um roteiro mental que não era apenas criação minha, e que envolvia possíveis elementos como uma garrafa quebrada, força de músculos, punhos possantes – quem sabe, derramamento de sangue. Ignoramos por completo a presença do rapaz, como se lá ele não estivesse.
Por vários minutos ele recolheu-se entre suas tranças, posando indiferença ou estudando alternativas, enquanto nós esvaziávamos a apreensão do ambiente, ocupadas em depositar mais e mais roupas no balcão, e a dialogar com a supervisora como se nada diferente estivesse a acontecer. Ou como se estivéssemos erguendo muros de proteção, atrás dos quais poderíamos nos abrigar: essa, a principal função das roupas.
Quando os dois policiais chegaram, muito tempo depois, em seus quepes e uniformes azuis, o rapaz já havia recolhido os impulsos que o levaram até ali, se rendido à realidade, e deixado a loja com sua garrafa vazia na mão, a chicotada das tranças ressoando apenas na memória.
Fomos embora, cada qual para seu lado, a outra cliente e eu, disfarçando a modéstia quanto ao sucesso de mais uma tática diversionista feminina, vital para a sobrevivência: a pura indiferença, vertente útil das estratégias de apaziguamento que costumamos praticar, tão habitualmente, na nossa vida diária.

Angela Barros Leal é jornalista, escritora e colaboradora do Focus Poder desde 2021. Sócia efetiva do Instituto do Ceará.