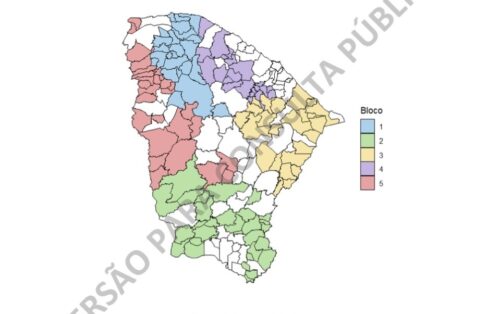– Que mulher! – admira-se o primeiro dos três homens sentados à mesa de um restaurante, ao ver entrar uma mulher desacompanhada. E emenda com uma pergunta: -Será que tem dono?
– Que mulher! – admira-se o primeiro dos três homens sentados à mesa de um restaurante, ao ver entrar uma mulher desacompanhada. E emenda com uma pergunta: -Será que tem dono?
– Mulher boa sempre tem dono – corta a conversa outro participante da mesa, mais um personagem de uma cena do filme O homem de papel, um policial noir inteiramente gravado sob a luminosidade de Fortaleza, no ano de 1975.
Confesso que meus ouvidos andavam um tanto desacostumados a esse modelo de diálogo. Mas não retrocedi. Tinha reservado noventa minutos da minha tarde para assistir o dito filme, e não iria me abalar com as falas de um script redigido meio século atrás para a diversão das massas.
Aliás, deixo a advertência de que não me compete a crítica cinematográfica. Melhor se encontra tal crítica nas mãos de profissionais como Firmino Holanda, um dos maiores conhecedores do que foi produzido na área dentro do Ceará, e sobre o Ceará. Justamente por isso, e como em todo discurso no qual o autor logo de início se exime de autoridade, prossigo impávida a dar meus palpites sobre a obra, hoje digitalizada e disponível a todos na internet.
Na redação do jornal fictício A Tribuna, um dos cenários para atuação de parte do elenco, as janelas de vidro estão sempre abertas. Indicativo evidente tanto da ausência de ar-condicionado como da premência por aberturas de escape, através das quais pudesse se esvair a fumaça emitida dos tantos cigarros sendo acesos, ou já fumegando no ambiente.
Sobre as mesas dos jornalistas e do editor posicionam-se as barulhentas máquinas de escrever, metralhando notícias para o dia seguinte, as laudas de papel timbrado, os telefones de baquelite ligados ao fio, dial giratório pronto para ligações sobre o que pode ser mais um furo de reportagem – e os cinzeiros transbordantes, é claro.
Como o enredo é policial, tratando de uma denúncia de “contrabando de tóxicos”, e da atuação de um grupo criminoso com ramificações que ascendem aos escalões mais elevados da sociedade, as casas escolhidas para servir de cenário às gravações são o que havia de mais refinado na época.
Piscinas, vitrais em exuberantes cores tropicais, espaços abertos, uso farto de madeira escura nas portas e janelas, paredes exibindo os pintores em moda, até mesmo uma arara acorrentada, todos a postos para apresentar o desenvolvimento da cidade.
Pois a estrela do filme é Fortaleza, estreando uma modernidade novinha em folha. Quase nada se vê do passado nas cenas gravadas. Nenhuma edificação tradicional é mostrada, à exceção de passageiras visões da capelinha de Santa Edwiges, da torre da Catedral, do edifício São Pedro, na Praia de Iracema, ainda em razoável estado de conservação, do farol velho. No resto, são apenas as novas construções que ganham lugar no enredo, transformado para a posteridade em um catálogo das obras de engenharia realizadas naquele ano, e nos anos anteriores.
Em meio às perseguições automobilísticas e aos confrontos corporais entre mocinhos, bandidos e indecisos, em meio a festas dionisíacas nas mansões e a preliminares eróticas envolvendo armas de fogo, a cidade é mostrada com a limpidez dos dias depois das chuvas. Todo edifício visto, toda avenida transitada pelos carros em perseguições aceleradas, parecem ter sido concluídos ou asfaltados na véspera – o que em parte é um pouco verdade.
O novo prédio da Biblioteca Pública Menezes Pimentel havia sido inaugurado naquele 1975, a mesma data de entrega da Avenida José Bastos. A Avenida Marechal Castelo Branco, hoje assumidamente Avenida Leste Oeste, havia sido inaugurada no ano anterior, 1974, bem como o Centro de Convenções do Ceará e o primeiro Shopping Center da cidade.
O estádio Plácido Castelo recebera seu primeiro jogo em 1973, o ano em que a Avenida Carapinima teve concluído seu alargamento, e em que um único moinho imperava, solitário, na proximidade do porto do Mucuripe. A Avenida Aguanambi, por onde transcorria uma boa parte da movimentação cinematográfica, datada de 1972, era uma língua escura de asfalto pouco transitado.
No filme, as areias da praia do Futuro surgem desprovidas de barracas, e os coqueiros ainda se desordenavam em sua distribuição primitiva. A Avenida Beira Mar se mostra como o projeto que vinha dos idos de 1960, e que seria concluído duas décadas depois. Permitia, porém, deixar ver, do lado oposto ao Oceano, as áreas verdes e os terrenos despovoados onde seriam semeadas as plantas dos futuros arranha-céus.
Ao final, entre os mortos e feridos do roteiro, o filme valeu para mim como o documentário de um tempo vivido por uma bela mocinha: aquela Fortaleza prestes a celebrar 250 anos, tão boa (no bom sentido…) como a mulher que entrou no restaurante, no começo dessa história –, e que continua tendo todos nós como seus donos.

Angela Barros Leal é jornalista, escritora e colaboradora do Focus Poder desde 2021. Sócia efetiva do Instituto do Ceará.