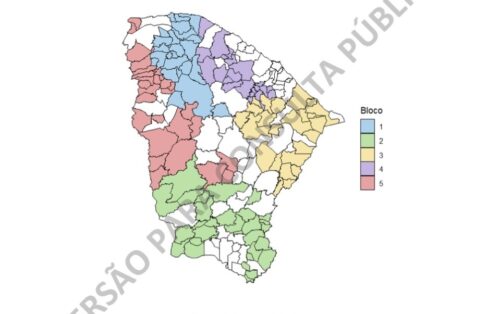[Em torno de alguns pressupostos sobre uma sociologia eleitoral]
“O cidadão é a partícula da soberania — é o voto.”
— José de Alencar
“Sem liberdade não há voto.”
— Rui Barbosa
Por Paulo Elpídio de Menezes Neto
A história do voto confunde-se, no Brasil, com as raízes mais distantes das oligarquias, desde o Império e por toda a República.
As ditaduras, trazidas pela quebra constitucional — no governo Floriano Peixoto, em 1937, em 1954, em 1964 e em 2023, com o advento dos embargos pretorianos — tiveram o voto e a representação, assim como o mandato, no centro de uma democracia “vigiada”.
No começo, nem todos eram cidadãos, segundo o viés dos “federalistas”, aquela gente sisuda de protestantes cheia de virtudes, votantes habilitados a participar da “eleição” de seus parlamentares.
Pobres e desvalidos da sorte não votavam; os homens “bem-nascidos”, sim — mas não as mulheres, nem os escravos, muito menos os alforriados.
O voto era um “registro escritural”, a bico de pena. Os candidatos saíam das comodidades políticas e patrimonialistas do Imperador, ou dos governadores provinciais e dos estados. “Indicar” os candidatos era o ponto de partida de todo o processo eleitoral.
A “construção” do voto — isto é, a fabricação da receita com a qual se formavam a vontade e a escolha do cidadão votante — era atributo das oligarquias, com as quais o Império e a República compartilhavam o seu poder eleitoral.
“Formar” o voto e apurá-lo, nos livros de presença, eram processos que se completavam sob os cuidados do Estado e das oligarquias locais.
Daí porque a “eleição” revestiu-se, no Brasil, de um ritual litúrgico que acompanha, desde então, o processo eleitoral — da “festa” cívica do voto à sua apuração.
Da votação “a bico de pena”, com o voto escritural, visível e controlável, à “urna cidadã”, de cujo bojo eram extraídos os votos, vai um longo e árduo aprendizado.
A urna eletrônica viria a seu tempo, com os avanços da informática. Tornou-se, com o tempo, espécie de “tótem”, o altar da democracia diante do qual cidadãos e cidadãs firmam o “contrato eleitoral”, pelo qual a lei haverá de conferir mandato aos seus representantes.
Stalin, com sua perspicácia de modelador do Estado soviético moderno, convencera-se de que “vencia” a eleição quem “contava” os votos. Por isso, fez do Partido Comunista um partido único, sem rixas nem queixas, afastadas as incertezas do voto. O voto materializa-se, nesse cenário, pela “aclamação” uníssona dos sovietes.
Na democracia, em largo espectro, valem a liberdade para a escolha dos candidatos e a contagem do voto.
Se o voto eletrônico é um avanço nas técnicas eleitorais, como acreditamos, por que abandonar a comprovação impressa dessa decisão? Afinal, os algoritmos ainda não foram celebrados como fiadores da democracia.
Deixamos de celebrar, no Brasil, a festa da democracia para pôr em seu lugar a consagração de um recipiente inteligente de guarda e contagem de votos como símbolo da soberania de um governo do povo.