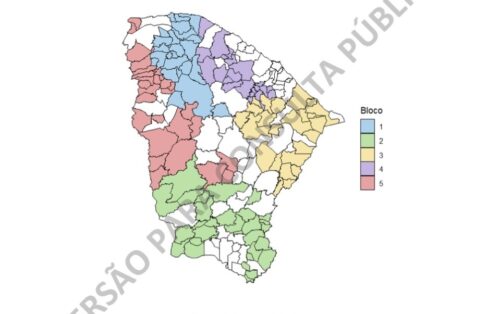A súbita redução dos homicídios no Ceará em 2026, tão rápida quanto inesperada, não pode ser explicada por uma única variável. A leitura simplista, que atribui o fenômeno exclusivamente a políticas públicas de segurança ou apenas ao rearranjo entre facções, ignora a natureza complexa da violência contemporânea. Em contextos dominados pelo crime organizado, a taxa de assassinatos funciona como um sismógrafo: registra tanto os tremores da disputa ilegal quanto a capacidade do Estado de conter seus abalos.
É evidente que a pacificação forçada entre grupos rivais, com a absorção de uma facção por outra e a consequente redução da guerra territorial, produz impacto imediato nos índices de homicídios. Trata-se de um padrão observado não apenas no Ceará, mas em diversas geografias do crime. Quando diminui o conflito armado entre organizações, reduz-se o principal motor das mortes violentas: a disputa por territórios, rotas e mercados ilícitos. A violência letal, nesse sentido, não é aleatória; ela é funcional à economia do crime.
Mas essa explicação, embora verdadeira, é insuficiente.
Facções não operam no vácuo. Elas se expandem, se fragmentam ou se acomodam dentro de um ambiente moldado pela presença, ou ausência, do Estado. O que ocorre no Ceará hoje é resultado de um duplo movimento: de um lado, a reorganização interna do crime; de outro, a pressão crescente das estruturas de segurança pública, especialmente por meio de prisões em massa, inteligência penitenciária e ações preventivas em territórios sensíveis.
O encarceramento intensivo de lideranças e operadores logísticos enfraquece cadeias de comando, dificulta a coordenação de ataques e aumenta o custo operacional das facções. Penitenciárias superlotadas, embora problemáticas sob diversos aspectos, também funcionam como dispositivos de contenção quando associadas a regimes rígidos e isolamento de chefias criminosas. O Estado, ao agir com rigor, altera o cálculo estratégico das organizações: a guerra aberta deixa de ser vantajosa quando a repressão se torna previsível e implacável.
Há, portanto, um efeito combinado. A hegemonia de uma facção reduz conflitos horizontais, enquanto a ação estatal limita a capacidade de verticalização do poder criminoso. O resultado visível é a queda dos homicídios, indicador clássico da violência, ainda que outros crimes possam persistir ou se transformar.
Politicamente, esse cenário é explosivo, sobretudo em ano eleitoral. Governos tendem a reivindicar os números como prova de eficiência; opositores suspeitam de artificialidade ou de pactos informais. A verdade costuma estar no meio-termo incômodo: políticas públicas influenciam, sim, os índices, mas não controlam totalmente variáveis subterrâneas como alianças criminais, disputas internas e fluxos econômicos ilegais.
A experiência internacional confirma essa ambiguidade. Em países da América Latina, no México ou em cidades norte-americanas nos anos 1980-90, como era o caso de Nova Iorque, quedas abruptas de homicídios frequentemente coincidiram com rearranjos do submundo criminal tanto quanto com mudanças nas estratégias policiais. Violência extrema e sua redução obedecem a ciclos, não a soluções definitivas.
O risco, portanto, é interpretar a calmaria como pacificação estrutural. Se a diminuição dos assassinatos decorre, em parte, do fim de disputas abertas, ela pode ser revertida com a mesma rapidez caso novas rivalidades surjam ou o equilíbrio interno das facções se rompa. A história recente do Brasil mostra que hegemonias criminosas são sempre provisórias.
Nesse ambiente, prospera também uma fauna previsível e daninha mo campo da política que transforma a dor coletiva em ativo eleitoral. São aqueles que só aparecem quando o sangue corre, explorando o medo como plataforma e a tragédia como argumento, verdadeiros “gigolôs da violência”. Não propõem soluções, não constroem políticas públicas, não reconhecem avanços institucionais; sobrevivem da perpetuação do caos que dizem combater. Trata-se de uma prática profundamente anticivilizatória, pois sequestra o debate público e reduz a segurança a instrumento de disputa, quando deveria ser um compromisso de Estado e de sociedade.
O papel decisivo do Estado não é celebrar números, mas impedir que a dinâmica da violência dependa exclusivamente da lógica do crime. Segurança pública eficaz não se mede apenas pela queda dos homicídios, mas pela capacidade de impedir que a paz seja ditada pelos próprios atores ilegais.
Em outras palavras: quando as mortes diminuem porque o Estado se fortalece, há avanço civilizatório. Quando diminuem porque uma facção venceu a outra, há apenas silêncio armado.
O desafio do Ceará, e do Brasil, é transformar a primeira hipótese na regra e impedir que a segunda volte a determinar o ritmo da vida social.