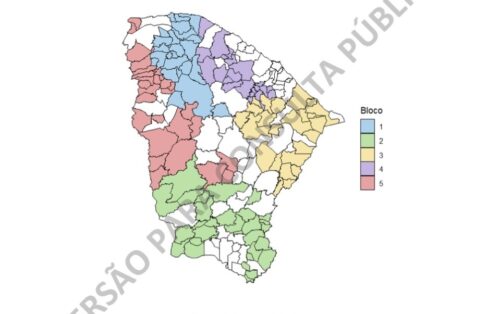“Nada é mais profundo no homem do que sua capacidade de ferir.” – Emil Cioran
A denúncia feita pelo jornalista Ezio Gavazzeni, publicada recentemente na imprensa, é estarrecedora: homens viajavam da Itália às colinas de Sarajevo para atirar em civis como parte de um “safári humano”. Ricos que pagavam para se divertir no cenário do horror. Não é apenas crueldade — é a institucionalização do abismo. Um turismo da morte montado enquanto uma comunidadesitiada implorava por pão e silêncio.
O cerco da cidade já era, por si só, um colapso moral: mulheres correndo como sombras, crianças aprendendo a medir a vida pelo intervalo entre tiros, velhos enterrando filhos às pressas. Agora se suspeita que, entre os franco-atiradores, houvesse estrangeiros seduzidos pela chance de “experimentar” a sensação de matar — viajantes colecionando lembranças mórbidas, canalhas que se deliciavam em abater um indefeso à distância.
O preço dessa infâmia: até seiscentos mil reais por pessoa. O pacote oferecia logística, transporte e discrição. A morte virou artigo de luxo, consumido na certeza de que o mundo não estava olhando. O pior não é a acusação — é que ela não surpreende. A região dos Bálcãs, desde o início, foi vitrine da indiferença internacional.
Os franco-atiradores transformaram a infância em alvo: milhares de crianças caíram não por engano, mas por puro deleite de quem via na mira um brinquedo humano. Mulheres eram abatidas quando tentavam alcançar um pedaço de pão, caçadas com a mesma frieza reservada a animais em fuga. Ali, a maldade deixou de ser conceito — ganhou rotina, método e prazer.
E não foi diferente em outros horrores da década. Em 1994, Ruanda implorava por socorro durante o massacre mais veloz do século. Nos dois casos — Sarajevo e Ruanda — os Estados Unidos foram omissos. Em Ruanda, evitaram pronunciar a palavra “genocídio” para não acionar obrigações legais; em Sarajevo, só agiram com os bombardeios da OTAN em 1995, quando o mal já havia se entranhado demais.
Nos dois genocídios, o ex-presidente dos EUA sabia o suficiente para agir muito antes — e, ainda assim, permaneceu imóvel. “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado.” — Tiago 4:17. Anos depois, diante das ruínas de Ruanda, a própria Casa Branca admitiria o que já era evidente: “Falhamos em chamar aquilo pelo nome e em agir com rapidez.” — reconheceu Bill Clinton em Kigali, no ano de 1998.
Agora resta a investigação, tardia, tentando recompor uma verdade há muito soterrada pelo tempo. Talvez se identifique um culpado, talvez nenhum. Mas a denúncia rompe o conforto das narrativas distantes e nos obriga a encarar o que preferimos negar — que existem homens comuns, perfeitamente apresentáveis, capazes de atravessar um conflito apenas para brincar de matar. Monstros que não desaparecem; apenas esperam, pacientemente, a próxima ocasião para extravasar o mal. É a excitação do disparo certeiro, a vaidade de voltar para casa com a história secreta de um assassinato exótico: eis o retrato perturbador que emerge.
E, assim, Sarajevo volta a gritar — não somente pelos mortos, mas pelos vivos que ainda insistem em não ouvi-la.

*Walter Pinto Filho é Promotor de Justiça em Fortaleza, autor dos livros CINEMA – A Lâmina que Corta e O Caso Cesare Battisti – A Confissão do Terrorista. www.filmesparasempre.com.br