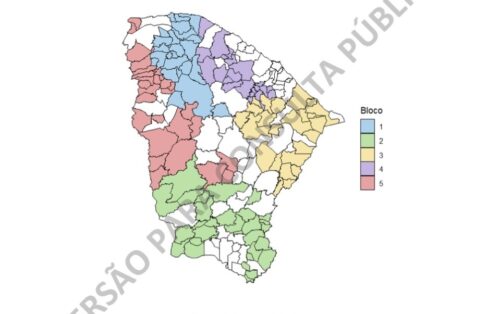Nem sei bem como cheguei até essa informação, mas descubro que existem pessoas vítimas de astrofobia, medo (dito) irracional de raios, trovões e tempestades. Pelos cálculos da Organização Mundial de Saúde, cerca de 5 por cento da população mundial é vítima desse tipo especial de fobia, o que deve resultar em uns bons milhões de criaturas espalhadas pelo planeta estremecendo em pavor ante qualquer indício de chuva forte. Pior ainda, descubro também estar tal transtorno inserido no âmbito maior da ombrofobia, ou pluviofobia, devidamente categorizado não só pela referida OMS, mas pela respeitada Associação Americana de Psiquiatria. Tenho, portanto, o devido respaldo para assumir essa condição médica – que no entanto rejeito categoricamente.
Temer a chuva não é irracional, asseguro a mim mesma. É mais que justificável. De fato, é uma questão apenas de atender à mensagem dos nossos cinco sentidos, emitida por nossos mais primitivos genes ao cair das primeiras gotas de um temporal. É o que faço quando vejo o céu escurecer no horizonte, as nuvens cumulonimbus aglomerando-se em torres volumosas, indo às alturas, conspirando para a formação das tempestades. É o que sinto no cheiro de cloro permeando o ar, no gosto acre de ozônio na ponta da língua quando o vento para de soprar, em respeito ao aguaceiro que se avizinha.
Sentidos alertas, estremeço quando dizem estar o tempo “bonito para chover”, e a frase chega a mim como uma sentença ameaçadora, arrepiando minha pele de cearense envergonhada, negando a pátria, a raça. Se o horizonte de céu baixo vem acompanhado pela reverberação surda dos primeiros trovões; pela ressonância profunda proveniente de turbilhões girando no interior das nuvens pesadas; se chega em roncos prolongados, procedentes dos quatro pontos cardeais, estremecendo os vidros das janelas e provocando urros similares das feras em seus habitats e dos bichos mais mansos sob nossos telhados; e, principalmente, se vem em conjunto com o espetáculo pirotécnico envolvendo a luminosa participação de raios e relâmpagos, está declarado estado de pânico.
Antigamente, sabíamos que a culpa do desastre repousaria sobre os ombros de alguém: do descrente, que na praça da aldeia deixara claro seu desprezo à divindade; da bruxa, a velha ermitã refugiada no arvoredo, que invocara a destruição; ou seria culpa do possuído pelos maus espíritos, pisoteando ícones sagrados e alardeando maldições desconexas. Alguém teria que ser sacrificado em uma fogueira. (Nesse sentido, e no contexto urbano atual, mudamos apenas quanto aos métodos de sacrifício…) Desconfio que a frase “que bom estar chovendo” não devia ser enunciado capaz de agradar às mulheres do passado, as mesmas impressas em hélices do meu DNA. Minha avó encobria os espelhos – que atrairiam raios –, apagava as luzes, trancava portas e janelas, agarrava-se ao terço e se escondia embaixo das cobertas, enquanto o filho mais novo corria sob os primeiros respingos para chamar meu avô na farmácia da qual ele era proprietário.
Ai, meu Jesus, ai, meu Jesus – dizem que era ouvido da calçada ao quintal, no compasso impaciente da enxurrada de água abalando a base das pedras da Serra de Baturité, desenraizando os pés de bananeira, vergando o pescoço das helicônias e pacaviras, obstruindo as passagens dos pedestres com pedriscos, raízes e lama. O lamento das fervorosas orações só era suplantado na cozinha de telha vã, onde as goteiras inevitáveis tamborilavam nas bacias de flandres, nos baldes de ferro. Meu avô acorria, pressuroso, certamente portando nas mãos elixires e preparados capazes de aliviar os temores (não infundados) da minha avó, agarrada a anjos e santos, querubins e serafins que a salvassem dos dilúvios tropicais desabando sobre a vegetação remanescente da mata atlântica.
A semente desse medo resiste em mim, nessa chamada pluviofobia – que considero, isso sim, um prudente alerta de sobrevivência, vivendo, como vivemos, em metrópoles e cidades hidrossolúveis, desfazendo-se sob o peso das nuvens, a justa fúria da natureza reagindo às nossas investidas. Da minha parte, e apesar de saber, racionalmente, das benesses que o cair das águas concede a essa terra, tão carente delas, coloco-me na companhia solidária dos milhões de indivíduos que mantém os sentidos atentos aos primeiros sinais de chuva, para cobrirmos os espelhos e nos escondermos debaixo das cobertas.