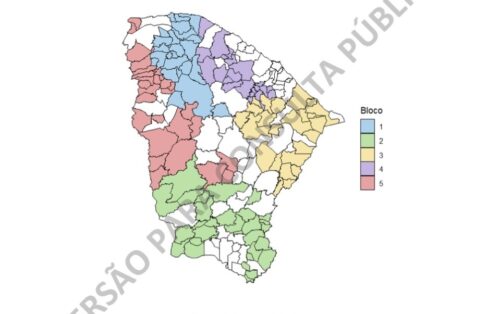Era o ano de 1967. Como de costume, deixava minha mesada reservada para usufruir o centro da cidade nas tardes de sexta-feira. Morava na Rua Tibúrcio Cavalcante, na então tranquila Aldeota. Pegava o ônibus que seguia pela Avenida Costa Barros até o final da linha, na conhecida Praça dos Leões.
Subia as escadarias com o coração leve e me dirigia ao centro, onde começava o meu pequeno ritual de encantamento. Passava pela Lisbonense, e o cheiro inconfundível do pão saindo do forno me recebia como uma prece antiga. A Praça do Ferreira, mesmo já mutilada em suas características históricas, ainda guardava um sopro de tempo. O vento parecia querer ressuscitar memórias.
O pastel de carne com azeitona, com caroço, como deveria ser, e o caldo de cana me aguardavam. A escada rolante, ainda novidade. O sundae de chocolate com marshmallow e aquele copo d’água geladíssimo na Lobrás. Parada obrigatória na Livraria do Arlindo, dentro do Palácio do Comércio, onde sempre saía com três ou quatro livros debaixo do braço. Por fim, a banca de revistas: um templo. Lá, eu alimentava minha paixão por quadrinhos. O Fantasma era uma certeza. Mas naquela sexta-feira, algo novo chamou minha atenção.
Uma revista recém-lançada. Capa vermelha. Uma foice e um martelo. Era provocativa, instigante. A primeira edição da VEJA. Comprei. E até hoje a conservo com zelo, como quem guarda um símbolo de um tempo em que a liberdade de expressão se apresentava na banca da esquina.
Na volta, o ônibus cheio. Motorista e cobrador já me conheciam. Sabiam até onde eu desceria, na Rua Torres Câmara, quase esquina com minha Tibúrcio Cavalcante. Era tudo simples. E tão imenso.
Ontem, com a notícia do falecimento do jornalista J.R. Guzzo, senti como se mais um pilar da dignidade tivesse sido retirado silenciosamente do cenário nacional. Guzzo foi destemido, um defensor intransigente da liberdade de pensamento e de expressão. Ético. Foi ele um dos responsáveis pelo nascimento da Veja e pela época em que a revista era referência de imparcialidade, clareza e compromisso com a verdade.
Hoje, tudo parece mais barulhento e menos confiável. Mas naquela tarde de 1967, entre o pastel, o livro e a revista, estava tudo lá: liberdade, memória e futuro.