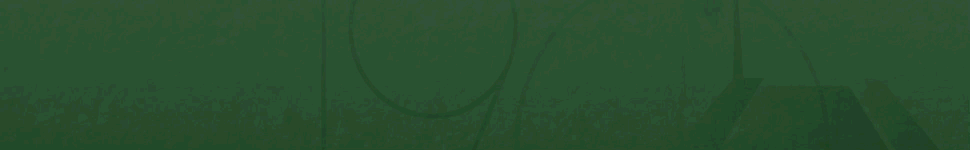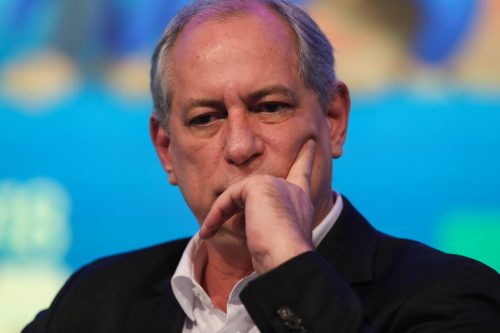Aquela rua tem muros altos, ornados de rolos de arame. Tem portões fechados sob o olho insone das câmeras, tem casas imensas, com portas de metal travadas por trancas e tramelas, passagens cerradas a ferrolho, cadeados nas frestas e sete chaves nas janelas.
Tem moradas com vidros à prova de bala, tem grades reforçadas, alarmes digitais de ponta, equipamentos de segurança eletrônica, conectados (te digo agora, um tanto quanto dramática) ao FBI, à CIA, à Interpol, à Polícia Espacial Intergaláctica.
Aquela rua é um corredor polonês que os poucos intrusos cruzam apressados, sob o espiar temeroso dos moradores, entrincheirados por detrás de cortinas. É um ponto cego, um envelope fechado, uma pista de escape para carros blindados, um xis riscado no mapa da mina.
De fato, em bom português, aquela rua é apenas um vinco no mapa, uma trilha a mais em uma estrada percorrida pelas rodas – e não por pés. É uma ilha semi deserta, perceptivelmente inquieta, cercada de realidade por todos os lados tal qual um corpo morto, fadado à solidão e ao desterro. Uma rua escoltada por falsas verdades, alma e coração enredados na cadeia alimentar infinda de nossa desumanidade.
Nela os vizinhos não hesitam, não piscam os olhos, não fraquejam: pressentem-se em diuturna condição de risco, isca para salteadores, alvo de aves de rapina, vítimas propícias a corsários levantinos que venham (sabe-se lá que dia) percorrer aquela rua vazia onde árvores não vicejam, não dão flores, cães não ladram e não há lugar para brincadeiras de meninas ou de meninos.
É uma rua que não desprezo, por ocultar imensas belezas, qualificada para usuários de cetro e coroa, uma rua boa para torres requintadas, minaretes, campanários, arcos mouriscos. Ao mesmo tempo, é uma rua que não invejo: aposto que, do alto, seus residentes não devem avistar piscinas, e sim um fosso, sobre o qual caberia bem repousar uma ponte levadiça. Onde estaria o ponto de travessia enxergam talvez um passadiço.
É uma rua larga, de pedras soltas sobre a areia salgada das dunas, ornada nos dois lados por plantas rasteiras, de raízes fundas. Nela, a flora é a mesma das áreas de mangue, de restinga, tão cinzenta e ressecada como o bioma da caatinga. Nos jardins internos sei que a paisagem é bem outra: rosas florescem, lírios brotam, pinheiros alcançam as alturas, fontes se derramam, a grama enverdece.
Estive algumas vezes por lá, a trabalho, em minhas missões de letras. E revejo os muros altos, enclausurando as casas atrás de inflexíveis portões, pressentindo na rua um medo difuso, um temor persistente silenciando os pássaros, emudecendo homens e animais. Não exagero: sei bem que toda rua sabe calar seus segredos.
Não é rua por onde passe uma banda, que sirva de palco a um desfile ou que hospede uma patriótica parada. Tem um jeito de poucos amigos, hospitaleira apenas a porteiros insones, sentinelas atentas, cães de guarda e vigilância armada. Cada garagem é uma casamata, cada curva fechada é uma trincheira, um abrigo.
Aquela rua é vendida como parte de um luxuoso refúgio, exclusivo reduto, anunciada como seguro esconderijo. Pelo que me contam, e pelo pouco que me foi dado ver de seus moradores, se apresenta como endereço adequado a Vossas Excelências, a Magníficos, a Meritíssimos e a Doutores – o que nunca me espantou e que a ninguém espanta.
No fim das contas, aquela rua nada mais é que uma rua medrosa de um bairro assustado, isolado em uma cidade calcada na hierarquia da mais aguda desigualdade humana. Uma rua que se apresenta tão nua, tão falsamente pacata, escrava porém de uma vertiginosa apreensão cotidiana, tão diversa das doces ruas e calçadas encantadas, cantadas por Mário Quintana.