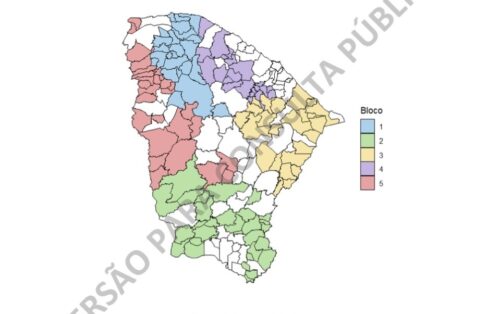Retomo sempre um velho e querido tema: a Praça do Boticário Ferreira. Mais uma vez, cedo ao impulso de abordá-lo em prosa despretensiosa.
Não sou arquiteto — uma frustração mal dissimulada. Vejo o mundo com vezo de observador; as sociedades e as criaturas aparecem no meu monitor sob outro ângulo, como olheiro e sociólogo, cientista político e curioso interessado na compreensão do que percebe. É natural que as enxergue, assim, com o olhar que vê os habitantes da cidade e suas habitações a partir das suas necessidades — sem esquecer, contudo, as imposições da estética, pois é de beleza, afinal, que se constroem as obras humanas.
Não haveria de ser por essa razão que me seria negada a possibilidade de falar, em apelo, contra os riscos que elas — as praças — permanentemente correm.
“Morar”, uma das funções essenciais da arquitetura, não pode ser reduzido, como método e prática profissional, à construção de “antropotecas”: aquelas estantes sociais às quais se recolhem as pessoas e nelas se enfiam para morar.
Os logradouros — ruas, praças, avenidas, becos que sejam — são pontos de convergência da população transeunte, os que passam por eles e, em casos extremos, ali se recolhem. São convergências, espaços tangenciais de um lugar ocupado por gente — a que, romanticamente, já chamamos de povo. Por pressuposto.
No caso da nossa “praça” — e de todos esses equipamentos sociais, muitos dos quais esquecidos — não são as intervenções arquitetônicas que prevalecem, mas a utilidade desses espaços; o uso a que se destinam, como as pessoas se servem deles. Quanto mais antigas, mais devem guardar o testemunho da sua antiguidade. Nada justifica que se lhes dispensem ares de modernidade. Que sejam valorizadas pelo que historicamente representam e pela memória que guardam — e não transformadas em mercados ou feiras permanentes.
A Praça do Ferreira já sofreu “intervenções” mais frequentes do que precisava. A Praça dos Mártires bem poderia ser apontada como um milagre de sobrevivência em tantos anos de maus-tratos.
O viés de modernidade que persegue o cearense inculto — ou indulgente — é o maior risco que corre o nosso patrimônio histórico e arquitetônico. Nem me atreveria a apontar a destruição sistemática dos bens patrimoniais da cidade, a golpes de esperteza imobiliária e da indiferença dos poderes públicos. Já o fiz em outros textos — e provavelmente retornarei ao mesmo e gasto tema.
Em trezentos anos, a nossa praça sofreu pelo menos sete reformas ou restaurações. Perdeu o caráter que lhe vestia nos primeiros tempos. Ganhou penduricalhos urbanos desconcertantes, para, por fim, ser ocupada — sem qualquer resistência dos poderes públicos — por moradores de rua, com prostituição aberta, em ambiente fétido e malcuidado, enquanto os antigos frequentadores se afastaram.
A Praça dos Mártires e a do Ferreira carecem de um projeto, de uma bula, da definição de um modo de usar que valorize sua história e sua memória.
Foi assim que se procedeu nas grandes cidades, salvo naquelas — infelizmente — ocupadas por predadores e desocupados.
Um destes dias, deparei com a Fonte dos Cavalinhos, na Praça Murilo Borges, ali pertinho, sob guarda e patrocínio da Justiça Federal, transformada em um acampamento, com roupas estendidas para secar.
Que tal pudéssemos começar por encontrar uma abordagem sensível e eficiente para os moradores de rua? Deixemos a praça sossegada.
Dê-se-lhe função social precisa, que se torne animação e ponto de encontro, foro e mostra para os que a procurarem. Para isso servem as praças — essa é sua função essencial. Não custa tentar.