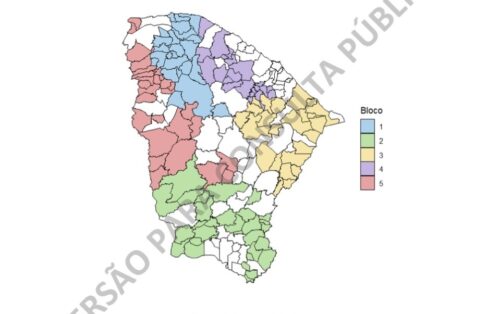Por João de Paula
De Maranguape
“Entrem, fiquem o tempo que quiserem e, quando saírem, me encontrem ali.”
Era o que eu dizia aos amigos que nos visitavam em nossa nova morada, ao levá-los à mundialmente famosa Catedral de Colônia. Apontava para um bar próximo — não por uma vontade inadiável de tomar uma Kölsch, a deliciosa cerveja típica da região, mas porque, depois da décima visita mostrando os detalhes daquela obra-prima gótica, meu encantamento inicial dera lugar a um certo cansaço.
As articulações de Paulo Lincoln para que eu fosse aceito na Faculdade de Medicina de Colônia haviam dado resultado. Fui convocado para o exame de proficiência em alemão, requisito para a matrícula na instituição, parte de uma universidade com seis séculos de existência. Ao desembarcar do trem vindo de Bochum na Estação Central, ao lado da catedral erguida naquela cidade fundada pelos romanos no século I, a palavra século martelou minha mente até que me veio à lembrança a frase célebre de Napoleão Bonaparte: “Soldados, do alto destas pirâmides quarenta séculos vos contemplam”. Viver em Colônia era algo parecido: sentia-me observado pela história — presente no idioma, na arquitetura, no urbanismo, nos sítios arqueológicos e nas coleções artísticas espalhadas pelos museus.
Aprovado no exame de alemão, recebi a autorização para matricular-me em medicina. A alegria pela conquista foi grande, mas logo deu lugar a uma frustração equivalente: dos cinco anos cursados no Brasil e dos seis meses de estudo no Chile, apenas dois anos foram reconhecidos. Eu teria de estudar mais quatro para concluir um curso que já estivera tão próximo do fim, interrompido duas vezes por ditaduras militares. Apelei da decisão, mas meu recurso foi negado sob a justificativa de que não havia convênio da Alemanha com Brasil ou Chile para equivalência curricular. Resignei-me: era mais um desafio a ser enfrentado.
No início dos estudos, morei em uma residência universitária em Efferen, nos arredores de Colônia, ligada à universidade por trens frequentes e confortáveis. A região era bucólica, com campos ideais para caminhadas e passeios de bicicleta, além de lagos onde, no verão, pessoas de todas as idades se banhavam sem roupas, em natural liberdade.
No coração do campus ficava a Mensa, restaurante que servia refeições para centenas de estudantes do mundo inteiro. Era um ambiente vibrante, onde diferenças físicas e culturais se transformavam em aprendizado mútuo. Assim como Bochum, Colônia era internacional, mas em escala muito maior.
Algo marcante na cidade era o alto grau de solidariedade para com refugiados chilenos, especialmente entre os mais jovens. Surgiram vários grupos de apoio, entre eles um comitê de professores que ajudava estudantes a prosseguir seus cursos. A Anistia Internacional criou o Grupo de Coordenação Brasil, que articulava ações com outros núcleos na Alemanha e no exterior. Por indicação de Paulo Lincoln, passei a participar, auxiliando em traduções de notícias e cartas enviadas ao governo brasileiro pedindo a libertação de presos políticos. Foi desse trabalho que nasceu a entrevista do jornal Brasilien Rundschau com François Jentel, padre belga expulso do Brasil após um ano de prisão por seu trabalho pastoral junto a povos originários. A repercussão foi enorme: cidades alemãs convidaram-no para palestrar sobre a repressão e sua experiência com comunidades indígenas.
Entre os exemplos de solidariedade, destaco o casal Bärbel e Friedhelm — Bárbara e Fred, como ficaram conhecidos no Brasil, onde atuaram como voluntários (ela nos arredores do Recife; ele em Aracati). Apaixonaram-se pelo país e entre si. Anos depois, casados, ajudaram Ruth e a mim a alugar um apartamento no prédio onde moravam, bem próximo à Catedral e ao rio Reno — um encanto para dois retirantes do sertão cearense, maravilhados com um rio que nunca secava. Fred liderou um mutirão de amigos brasileiros para reformar o apartamento. Nessa reforma, ao consertarmos uma parede voltada para a rua, encontramos jornais de abril e maio de 1945, usados para vedar rachaduras deixadas por bombas. As manchetes relatavam os sofrimentos da população ao fim da guerra — um momento de reflexão sobre o nazismo e suas feridas.
Outro apoio crucial veio de Dom Fragoso, bispo de Crateús, do padre José Maria Cavalcante e do então jovem Assis Rocha, hoje monsenhor. Eles mantinham contato com nossas famílias, levavam notícias tranquilizadoras e, às vezes, presentes saborosos do Ceará — rapadura, goma, farinha de mandioca.
E já que o assunto é sabor, a feijoada e a caipirinha viraram grandes atrações nos eventos políticos que organizávamos em Colônia. Os alemães, que criaram o famoso joelho de porco com chucrute, não conheciam o mocotó, mas se encantavam quando provavam nossa feijoada com caipirinha. Logo aprendiam onde comprar feijão preto africano e cachaça Pitú pernambucana, tornando-se mestres na arte da feijoada teuto-brasileira.
O ano de 1975 marcou um avanço na reorganização dos brasileiros exilados após o golpe no Chile. Muitos já haviam estruturado condições mínimas de sobrevivência. Além disso, a Revolução dos Cravos, em Portugal, abrira portas para refugiados e fortalecia as denúncias contra a ditadura brasileira. Na Alemanha, Colônia se consolidou como centro de solidariedade aos perseguidos políticos e de articulação de ações contra o regime militar.
A expansão desse movimento, a atuação de Ruth em Colônia, o trabalho com colegas da Deutsche Welle e da Transtel, minhas tarefas de estudante, locutor e palestrante, viagens a Berlim com o Grupo de Coordenação Brasil e uma ida a Paris no fuscão vermelho do Paulo Lincoln… bem, são histórias para outra ocasião.