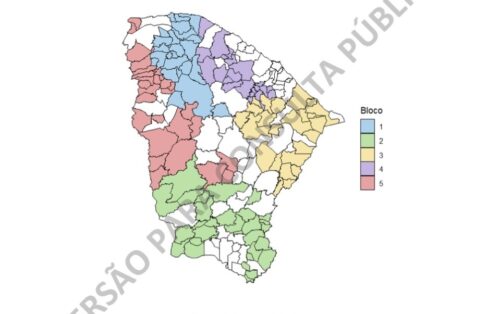Meus filhos eram crianças e morávamos em uma cidade estranha. Era estranha, pois não mantínhamos familiaridade com suas ruas, suas praças, seu Centro – se é que existia um Centro. Era estranha também por ser uma cidade que, logo cedo, se esvaziava de homens e mulheres saídos para trabalhar em Chicago, ou em outras cidades grandes por perto, e deixava livre seu espaço urbano para usufruto das donas de casa, dos bebês, das crianças pequenas demais para ir à escola.
Era uma cidade-dormitório, como chamavam àquele conjunto de condomínios mudos, que eu preferia denominar cidade-laboratório, por não conseguir me livrar da sensação de ser apenas um espécimen, em experimento científico voltado a provar algo – que desconfio ter descoberto.
No Verão a cidade era um Paraíso de campos esportivos, jardins coloridos, cortados por sinuosos caminhos de pedras. Em meio aos jardins víamos laguinhos rasos, onde nadavam peixes sonolentos, e sobre esses lagos passavam as mais delicadas pontes, arqueadas em toques orientais e emolduradas pelos chorões, os galhos mais baixos tocando a água. O ar cheirava a grama recém aparada, ao cloro das piscinas. As tardes pareciam durar dias inteiros, acompanhadas pela trilha sonora das cigarras. O sol, um olho vermelho grudado no azul do céu, teimava em não desaparecer.
No Inverno a cidade era um bloco prateado, congelado em uma solidão de vidro. A neve acumulava no beiral dos telhados, pesava nos ramos das árvores, sepultava os carros, cobria os lagos com uma capa de gelo que estimulava os meninos a desafios. Escurecia cedo, e uma luz dourada derramava-se das janelas para as calçadas, formando poças de cálido acolhimento.
Quando o termômetro descia abaixo de zero, e o nevoeiro pousava no chão com seus pés de veludo branco, era mais prudente permanecer em casa. Os caminhos de asfalto escuro, as luzes de freio dos carros, as placas de sinalização, os largos acostamentos, tudo era engolido por uma espuma esbranquiçada, um arquipélago de nuvens nos dando a honra da visita. A mim, era como se estivéssemos morando dentro de um cartão de Natal.
Independente da estação do ano, a cidade não conseguia esconder seu berço, projetada que fora por equipes contratadas para tal fim. Nada mais era, além de um típico projeto arquitetônico de incorporação imobiliária, ela inteira fruto de concepção artificial, pensada por arquitetos e urbanistas, desde o entrecruzar harmonioso das unidades residenciais ao tipo de peixe que habitava os lagos, desde as plantas que formavam as cercas vivas aos nomes poéticos dados às ruas.
Não possuía uma História, aquela cidade, ignorava o que fosse passado, desconhecia o que fosse tradição, raízes. Sua data de nascimento era a dos registros oficiais que haviam autorizado o início das obras de sua construção, em local pré-determinado daquelas planícies do Meio-oeste norte-americano. Na verdade, assemelhava-se mais a uma maquete, ou a um cenário onde se embalava, para presente, o American Dream.
À noite retornavam os homens e mulheres que tinham saído cedinho de casa para trabalhar. Reviam brevemente suas famílias, deixadas sem despedidas na pressa das madrugadas. Comiam diante do aparelho de TV e adormeciam sem sonhos, é como eu imaginava.
As vitrines dos shoppings reluziam na exposição permanente dos desejos de consumo, acessíveis à maioria dos bolsos. Nos supermercados, em cada gôndola o espanto com a variedade inconcebível de opções para um mesmo produto, com a diversidade de produtos procedentes dos quatro cantos da Terra, tornando lentas as escolhas. Frutas e legumes mais pareciam joias preciosas, polidas, iluminadas, esquecidas do chão de onde haviam sido extraídas. Não tinham marcas nem machucados, nenhuma mancha ou sabor.
Meus filhos iam à escola pública e embarcavam no ônibus amarelo que parava do outro lado da rua, recolhendo a criançada da vizinhança. Cruzavam a rua sem medo. Recebiam gratuitamente todo o material escolar, o lanche, a programação extraclasse. Estudavam Ciência em excursões a museus de História Natural, aprendiam criatividade em Museus de Arte, e se integravam a caminhadas nos bosques vizinhos – futuras incorporações imobiliárias, eu desconfiava – para aprender sobre fauna e flora locais. Faziam amigos.
Eu estudava inglês. Ouvir, falar, ler, escrever. Uma vez, em uma aula sobre os cinco sentidos, a jovem professora perguntou qual o pior cheiro que havíamos sentido na vida. The worst smell. Um homem asiático, sentado na fila de trás, respondeu: Human flesh burning. Eu já sabia suficientemente a língua, e sobre a maldade, para entender.
Eu dormia descansada no ventre opulento da baleia. Mas insistia em não esquecer a existência de um mundo real, com ruas desiguais, mato nascendo entre paralelepípedos, um mundo de ruas emaranhadas, terrenos baldios, de animais domésticos pastando à sombra, indiferentes ao tráfego, um mundo de fios elétricos entrançados de um poste a outro, de gente falando alto, música nas esquinas, feiras a céu aberto. Antes de dormir, eu zelava pela capacidade de voltar a caminhar, de olhos fechados, em meio ao caos.
Pra você ver, a quanto chega a insatisfação humana…