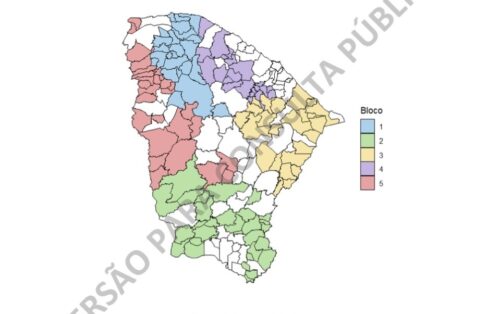O primeiro taxista se chama Gilberto. Um senhor com jeito de bonachão, que não silencia desde o momento em que abre a porta do carro para mim, no bairro do Cocó. Da conversa dele, que escuto com um ouvido apenas – enquanto ocupo o outro com um podcast –, sou informada sobre suas preferências nos três campos habituais de discussão. Futebol (torce Ceará), religião (recém-convertido à Igreja Presbiteriana) e política (prefere não comentar).
O primeiro taxista se chama Gilberto. Um senhor com jeito de bonachão, que não silencia desde o momento em que abre a porta do carro para mim, no bairro do Cocó. Da conversa dele, que escuto com um ouvido apenas – enquanto ocupo o outro com um podcast –, sou informada sobre suas preferências nos três campos habituais de discussão. Futebol (torce Ceará), religião (recém-convertido à Igreja Presbiteriana) e política (prefere não comentar).
Seu maior orgulho é a confiança que os clientes depositam nele, depois de 32 anos fazendo a praça de Fortaleza, como relata. A maior prova, faz questão de me contar, é o compromisso diário com o pequeno Gabriel, 3 anos de idade, que ele religiosamente apanha no colégio às 11h30 da manhã.
Ligo os dois ouvidos na informação: como assim, um bebê de 3 anos, viajar sozinho, da escola para casa, com um taxista de aluguel, sem parentesco algum. Instintos maternais e protetores me vêm à tona. A mãe dele trabalha, ele explica. Não tem babá. Não tem quem venha pegar o Gabriel. Era minha cliente, confia em mim, me contratou para isso e todo dia eu mesmo pego o menino.
A cadeirinha do Gabriel fica guardada no porta-malas. Quando chega a vez de estacionar diante do portão do colégio, as professoras trazem o menino pela mão enquanto ele fixa a cadeirinha com o cinto de segurança. São elas que auxiliam o bebê a sentar, devidamente protegido. Pergunto, um tanto sem jeito: as professoras não acham pouco natural, um táxi pegar a criança? E o menino, não estranha o senhor?
Ele descarta as questões. O menino é louco por ele. Estranhou no começo, mas agora é só sorrisos. Outras crianças também voltam para casa assim. Inclusive, um dos motoristas já foi até chamado pela professora de um de seus pequenos passageiros, para discutir um problema acontecido em sala de aula. E dá uma gargalhada, com a promoção do motorista ao status de quase-pai, quase-mãe, guardião do bom comportamento escolar dos clientes.
Dizia Krishnamurti (ou dizem que dizia Krishnamurti…) que a forma mais elevada da inteligência humana seria a capacidade de observar sem julgar. Portanto, forço-me a observar e não julgar. Quem é capaz de desvendar o que há por trás de cada história alheia.
O segundo é uma taxista, Girlane. O marido comprou um carro novo e transferiu a ela o carro dele, do jeitinho que ela queria. Tem marcha automática e motor possante, capaz de atravessar a cidade sem queixas. Para a senhora ver, ela me diz, eu vim da Maraponga até o Cocó, e do Centro já sigo direto para o Guararapes. Não paro.
De tudo dos bairros ela sabe um pouco. Aqui mesmo, por exemplo, no Papicu, tem um riacho atravessando por debaixo dessas construções, das ruas, das árvores, por isso esse túnel está sempre cheio de água. A água mina das paredes, só a senhora vendo. Foi uma cliente que me explicou. Escavaram, aterraram, mas o riacho a senhora sabe como é: basta chover e a Natureza quer tomar de volta o que era dela. É natural.
Na saída do túnel reconheço o riacho. O Maceió, mais assemelhado a um canal de água estagnada, esverdeada, encoberto por uma camada sólida de lixo, de galhos e folhas secas, de detritos de toda espécie, rastejando para desembocar no parque destinado a recebê-lo, na Avenida Beira-mar.
A senhora sabe também do Pajeú. Esse alaga a Heráclito Graça em dois minutos. Vira uma lagoa. Deus me livre de ir para o Centro passando por lá, depois de qualquer chuvinha que seja. A Natureza toma de volta, é natural.
Fico pensando na extinta glória do Pajeú, demarcador do início da cidade, hoje uma sombra do que deve ter sido um dia, condenado a se arrastar pelo interior sombrio de manilhas e galerias subterrâneas, tocado aqui e aqui pelo sol.
Girlane não para. Passeia de bairro em bairro, o dia inteiro, com seu carrinho automático percorrendo vasos, veias e vias, artérias e capilares da cidade. Muito melhor do que ficar parada em casa, vendo televisão ou fofocando, assegura. Aqui eu aprendo, escuto, converso com muita gente, chego em casa feliz.
Quase no final do destino percebo, entre o lado esquerdo do assento dela e a respectiva porta, o brilho prateado de uma muleta do modelo que chamam canadense, feita para amparar o braço na altura do cotovelo e firmar o passo de quem precisa. É só quando entendo a alegria móvel de Girlane.
O terceiro taxista me traz do Centro para casa e não fala nada. Entro e saio do carro em silêncio, ele recebe meu dinheiro, dá o troco e retomamos nossas vidas. Melhor assim.