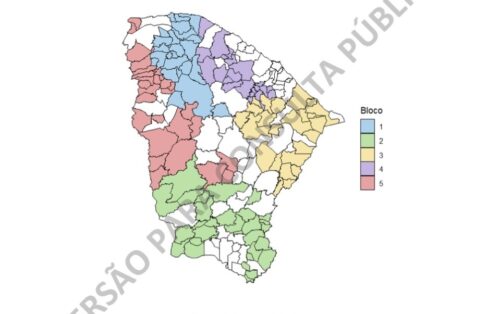Por Angela Barros Leal
Articulista do Focus
Uma amiga conta que estava na rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema, e vira aproximar-se um senhor de idade, caminhando sozinho na calçada de onde ela acompanhava uma reforma. Devia ser pela metade da manhã. Ele vinha absolutamente só, arrastando devagar a sola de seus sapatos bem engraxados, com sua calça social de barra dobrada, a camisa branca, passada para dentro do cós, fechada no punho das mangar longas por um par de abotoaduras.
Devia estar na faixa de 80 a 90 anos, ela reparara. Havia nele um ar de elegância, e uma segurança tal, que ficara um tanto constrangida ao se ver perguntando se ele precisava de alguma ajuda.
O senhor procurava a casa onde nascera, naquela rua, e onde passara os primeiros quatro ou cinco anos da infância. Trazia poucas lembranças dela – um muro branco, um telhado vermelho, um jardim florido –, mantidas mais pelas fotografias que vira nos álbuns do que propriamente pela memória.
Perguntado por ela, o senhor se identificou. Tinha um sobrenome conhecido, de família ilustre da cidade, que doara ao Estado pessoas renomadas, e que não vem ao caso mencionar. A veia criativa dos outros irmãos se direcionara em artes diferentes da criatividade dele, que optara pelos caminhos também sensíveis da poesia.
Disse a ela que publicara livros de poemas, com títulos instigantes, que estavam à venda na Estante Virtual, caso ela se interessasse. E dera uma degustação, puxando do bolso um dos poemas, impresso em papel dobrado e redobrado, amassado pelo uso, e que falava de amor e flor, de céu e de um par de olhos, de estrelas e de sorrisos iluminados.
De pé mesmo, como estavam, no meio da manhã, sob as palmas dos coqueiros, recostados no muro baixo de uma das casas – que até poderia ter sido a que ele buscava –, minha amiga escutou a entusiasmada leitura daquele senhor. Segurava o papel em ambas as mãos, e ela percebera um leve tremor, que podia ser causado pela idade, ou por um efeito da brisa marinha, ou quem sabe pela emoção que sentia, recitando à luz do sol, diante da minúscula plateia.
Ao final ela aplaudira, e ele se curvara em mesuras antigas. Ela pedira para fazer uma selfie com ele, e me mostrou na tela do celular o rosto redondo e sorridente do velho senhor, tão assemelhado ao de seus irmãos mais famosos, orgulhoso por ter ganho uma bela admiradora e por ver sua existência física refletida nos olhos dela.
Conversaram ainda por algum tempo, ou melhor, ele falou e ela ouviu, com atenção repartida entre o acompanhamento da reforma de uma casa e as palavras dele, entretido em um monólogo interminável, a discorrer sobre sua experiência de vida, sobre perdas e ganhos, sobre solidão e esquecimento, sobre o peso do passar dos anos.
Depois se despediram, com aperto de mão que virou um abraço desajeitado. Ela continuou o trabalho, e ele prosseguiu o caminho pela calçada em busca do passado perdido, como diria Proust.
Quando ela me contou a história, que a tocou de uma forma que não soube como explicar, me veio à mente uma frase sem dono, dessas que circulam por aí, de boca em boca ou de grupo em grupo, tentando definir o que é a velhice.
“Velhice é quando você tem todas as respostas, e ninguém faz as perguntas” – é o enunciado que gravei, assustada pela dor da definição. Sem querer, ela identificara naquele senhor, que buscava seu berço, a oferta de respostas que ela ainda não precisava, mas que um dia distante certamente iria necessitar.
Minha amiga disse que não vai deletar a selfie, mesmo tendo esquecido de pedir um endereço eletrônico, ou um número telefônico, para o qual enviar. Vai guardar aquele pedacinho de uma história simples, um retalho de fato acontecido na rua dos Tabajaras, uma história que nem é assim tão importante, a ponto de ser contada, mas que escolhi contar para que o encontro entre eles não tivesse acontecido em vão.