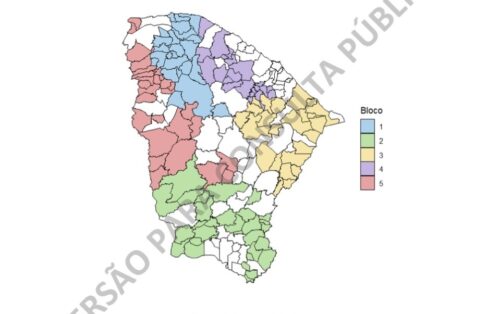Minha tia não deixava a cama antes do meio dia. Acordava bem antes desse horário, pressionava a campainha na mesa de cabeceira, a ser ouvida na cozinha, e de lá recebia o café da manhã, trazido na bandeja pelo onipresente Djatô. Vinha ele caminhando, com cautela, pelo longo corredor atapetado que ligava as entranhas da casa ao quarto de dormir. Envergava a jaqueta branca, iluminada por botões dourados, gola igual às de túnicas chinesas, calças escuras que deixavam à mostra seus tornozelos magros, e calçados fechados, desacompanhados de meias. Seu uniforme de trabalho.
Minha tia não deixava a cama antes do meio dia. Acordava bem antes desse horário, pressionava a campainha na mesa de cabeceira, a ser ouvida na cozinha, e de lá recebia o café da manhã, trazido na bandeja pelo onipresente Djatô. Vinha ele caminhando, com cautela, pelo longo corredor atapetado que ligava as entranhas da casa ao quarto de dormir. Envergava a jaqueta branca, iluminada por botões dourados, gola igual às de túnicas chinesas, calças escuras que deixavam à mostra seus tornozelos magros, e calçados fechados, desacompanhados de meias. Seu uniforme de trabalho.
A conversa entre ambos se dava em francês, bien sur, o idioma oficial do país onde ele nascera: Togo, hoje oficialmente República Togolesa.
Recostada nos travesseiros, cercada por almofadas, sob a meia luz matinal filtrada pelas cortinas, bandeja transformada em mesinha posta à altura de seu colo, minha tia degustava sem pressa o café com leite, as torradas com geleia de mirtilo e os biscoitos amanteigados (esses, seu vício confesso). Djatô – já aportuguesado para Jatô – aguardava de pé, a um passo da cama, alguma eventual demanda que dela viesse.
Sobrinha por afinidade, e não pelo sangue, a mim era dado o luxo de sentar em um banquinho ao pé da cama, e acompanhar o ritual das manhãs de segunda a sexta-feira. Ouvia os comentários da minha tia sobre os eventos de que participara na noite anterior, o estado de seu estômago, após tantas refeições tardias, os sonhos que haviam povoado seu sono.
Findo o café, removidos os alimentos, Jatô depositava sobre a bandeja a pilha de jornais diários. O tradicional Correio Braziliense. O recém-nascido Jornal de Brasília. Os jornalões renomados do Sul e Sudeste. Seriam a fonte principal de assuntos para as crônicas que ela escreveria, diariamente, ao longo de quatro décadas.
Ao meio dia eu aguardava por ela, na sala onde era mantida a biblioteca, e aproveitava o breve tempo para conversar com Jatô. Nunca cheguei a entender como ele desembarcara em Brasília, naquele início da década de 1970. Havia alguma relação com um golpe de estado ocorrido no Togo, em 1967, e com a interferência das artes diplomáticas de meu tio, em dado momento dos 6 mil quilômetros da travessia, não sei ao certo.
Também fiquei desconhecendo a origem das quatro cicatrizes horizontais, destacadas em ambos os lados da face de Jatô. Riscos largos, escuros, afundados até abaixo da epiderme, a primeira coisa que se percebia ao ver seu rosto. Minha curiosidade não era atendida a contento, devido ao meu desconhecimento da língua francesa, ao português truncado com o qual ele se comunicava, e à chegada de minha tia, em suas pantufas silenciosas.
Enquanto ela sentava em sua poltrona preferida, Jatô ia e vinha nas atividades de trabalho, atento a algum pedido dela. Com o empenho dos 20 anos, eu me ocupava em datilografar as crônicas, ou os capítulos do livro que ela escrevia à época, ditados em voz alta, como se visse as palavras e frases escritas no ar.
Minha tia partiu há muitas décadas. E eu nunca soube o destino de Jatô: primeiro, porque fui embora de Brasília; depois, pelo esvaimento inevitável das figuras que habitam nosso passado. Mais recentemente é que venho lembrando dele, e dos cuidados que tinha com minha tia: não sei se por dever profissional, ou se em sinal de gratidão pela ajuda recebida.
Ontem, aproveitei para pesquisar e entender a razão das cicatrizes. Na África Ocidental, até ser editada, em 2003, uma lei de proteção a crianças e adolescentes, era costume cortar no rosto deles as marcas identificadoras do grupo étnico a que pertenciam.
Utilizavam-se lâminas afiadas, empunhadas por pessoas experientes no uso empírico de instrumentos cortantes, que podiam variar de navalhas a espinhos. Qualquer assistência anestésica era vedada, embora não se tratasse de um simples corte, de um talho breve, capaz de fechar sem deixar sinais: fazia-se a cuidadosa e sofrida escarificação, trabalhando as camadas da pele de modo a evitar o intumescimento dos queloides, buscando manter as marcas em baixo relevo, do jeito que se via no rosto dele.
O procedimento vinha embrulhado na ideia original de que assim se reconheceriam os guerreiros nos campos de batalha. Mais adiante, já esquecidas as origens, nos conceitos de masculinidade, de prenúncio da vida adulta, ou de embelezamento para o sexo oposto.
O que dizer da experiência de Jatô, na casa ancorada frente ao lago Paranoá: cicatrizes indeléveis, visualizadas no espelho de cada dia; a lembrança, quem sabe, das cortinas horizontais de sangue que haviam lavado seu rosto; a dolorosa espera pela cura das feridas; o exercício diuturno para alcançar o amadurecimento das qualidades que, a partir delas, certamente viriam.
Depois de enfrentar tal rito de passagem, penso que tudo seria possível a ele. Inclusive (e por que não!) uma eventual imortalidade…

Angela Barros Leal é jornalista, escritora e colaboradora do Focus Poder desde 2021. Sócia efetiva do Instituto do Ceará.